Cineasta indígena, Alberto Alvares filma para preservar a memória Guarani
O diretor, da etnia Guarani Nhadeva, vê no cinema uma forma manter vivos aspectos da cultura de seu povo.
Rafael Ciscati
8 min

Navegue por tópicos
Logo nos primeiros minutos do documentário “A última cena”, do cineasta indígena Alberto Alvares, um ancião da etnia Guarani M’byá se dirige às crianças da aldeia. “Vocês, crianças, não vão conseguir me responder na fala antiga”, afirma o idoso, falando em guarani. “Mas mesmo assim eu vou falar [como antigamente]”.
Alvares divulgou o filme, um curta de 20 minutos, em junho passado, no canal que mantém no Youtube. É seu lançamento mais recente. O título não deixa espaço para dúvidas: na produção, ele reuniu as últimas imagens que gravou de três lideranças Guarani do Rio de Janeiro. Reuniu também reflexões sobre o próprio pai, que morreu sem ser filmado. São pessoas cujos conhecimentos, histórias e modos de falar, Alvares não quer que caiam no esquecimento. “Eu trabalho para salvaguardar a memória. Quero deixar esses saberes registrados para as próximas gerações. Mostrar para a sociedade outros modos de pensar”.
Aos 41 anos, Alvares passou a última década e meia resgatando as memórias dos Guarani. Grosso modo, seu método consiste em passar dias filmando o cotidiano de uma aldeia e ouvindo as histórias de seus moradores. Nascido no Mato Grosso do Sul, numa aldeia Guarani Nhandeva, ele fala fluentemente as outras duas variantes do idioma guarani: a Kaiowá e a Mbya. “Gosto de me sentar para conversar com os mais velhos”, explica. “Entender como pensam o mundo”.
Trata-se de um hábito útil a quem queira registar o nhandereko — o modo de viver Guarani. Marcadamente oral, a cultura desse povo é transmitida entre as gerações por meio de histórias e da repetição de hábitos. Se um ancião não compartilha o que viveu, ou se os jovens perdem o interesse no que ele tem para dizer, traços da cultura correm o risco de desaparecer.
É o que vem acontecendo com o que os Guarani chamam de “a língua antiga”, na qual o entrevistado de Alvares fala no início de “A última cena”.
O cineasta explica que ela é uma espécie de variação poética do idioma. É geralmente empregada durante cerimônias religiosas. “Quando usada no dia a dia, poucos a entendem”, diz Alvares. Ele próprio não entendia, até começar a filmar. “À medida que conversava com os mais velhos, fui aprendendo”. Nos seus filmes, a “língua antiga”, que as crianças já não conhecem, continua viva. Alvares filma para não esquecer.
***
A primeira experiência de Alberto Alvares com o cinema aconteceu por acaso, e com ele aparecendo diante da câmera. Alvares morava no Espírito Santo, onde dava aulas em uma das aldeias do seu povo. Ele cursou Licenciatura Intercultural Indígena na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e ensinava turmas do ensino fundamental. O ano era 2006 quando uma equipe de filmagens aportou na região. Queriam gravar uma versão cinematográfica de uma lenda Guarani, e precisavam de atores. Por insistência dos alunos, Alvares topou participar de um teste, e acabou sendo selecionado.
O filme se chamava “Como a noite apareceu”. Narrava a história de um guerreiro Guarani que, acompanhado por dois amigos, saía pelo mundo em busca da noite. Alvares conta que gostou da experiência. Mas sentiu um certo incômodo com a história. Não que o filme fosse ruim. “Mas me inquietava a imagem que ele reproduzia, de um indígena estereotipado”, explica. “Um indígena que ficou parado no tempo e não acompanhou esse mundo moderno. Uma coisa para turista ver”.

O cineasta Alberto Alvares, do povo Guarani Nhandeva. Caçador de suas histórias
A partir dali, cresceu nele o desejo de gravar um filme que mostrasse os Guarani a partir de uma perspectiva indígena. A oportunidade viria quatro anos depois, quando Alvares recebeu uma bolsa da UFMG. Participou de oficinas sobre montagem cinematográfica e foi a campo com uma câmera emprestada pela universidade. “Foi quando eu deixei de ser caça”, conta. “A câmera é minha flecha. Com ela, virei caçador das minhas próprias histórias”.
Houve percalços. Exceto pelas oficinas de montagem, ele nunca recebera formação técnica para fazer cinema. Seu primeiro entrevistado, o líder espiritual Alcindo Wera Tupã, de Santa Catarina, logo percebeu o amadorismo do rapaz. “Ele viu que eu mal sabia ligar a câmera”, ri Alvares. Wera Tupã tampouco entendia de tecnologia. Mas sabia como olhar o mundo. “Ele me mostrou para onde apontar a lente. Me ensinou como enquadrar uma cena”.
Na sua dissertação de mestrado, o cineasta descreve como Wera Tupã nomeou, em Guarani, os mesmo enquadramentos que — Alvares descobriria depois — as escolas de cinema ensinam em português. Nascia ali, diz ele, uma estética própria. Um jeito Guarani de filmar.
Quando chega com o equipamento em uma aldeia, Alvares diz que toda a comunidade se envolve no projeto. Entrevistador e entrevistados discutem quais elementos devem aparecer em cena, o que vai ser filmado e como. “Eu não espero que as pessoas me vejam como um diretor que diz à equipe o que fazer, que manda e desmanda”.
Além de filmar, ele aproveita as viagens que faz pelas aldeias — dos Guarani e também de outros povos — para ministrar oficinas de audiovisual. Foram dezenas nos últimos anos, conta. Sua ambição é formar outros cineastas que levem as perspectivas indígenas para as telas. “Quero mostrar que é possível fazer cinema a partir do olhar de cada povo. Ninguém precisa filmar como Glauber Rocha”.

Oficina realizada por Alberto em aldeia do povo Ka’apor. Novas perspectivas para o cinema
Alvares faz parte de uma geração de cineastas indígenas — cada qual com seu estilo e preocupações — que vêm ganhando destaque internacionalmente. Em fevereiro deste ano, uma universidade francesa realizou a mostra “Câmera-flecha: olhares sobre o cinema autóctone brasilero”, que destacou o cinema feito por indígenas do país. Entre os filmes exibidos, havia produções do pernambucano Ziel Karopotó, e da baiana Olinda Yawar Tupinambá. Essa última participou, com Alvares, da produção do especial Vozes da Terra, da rede Globo. Exibido em 2021, o programa reuniu depoimentos de lideranças indígenas de todo o país.
No dia 14 de abril, Alvares também participará de um colóquio sobre cinema e arte indígena na cidade de Colônia, Alemanha. Ele não parece se envaidecer com esse tipo de convite. Quando Brasil de Direitos pediu mais detalhes sobre o evento, desconversou. Para o repórter, mandou por Whatsapp a programação do encontro. Ele dividirá uma mesa, sobre imagem e memória, com o fotógrafo Edgar Xakriabá.
Alvares explica que, apesar de ser apaixonado por cinema, teme os efeitos psicológicos do ofício sobre o bem-estar dos jovens guarani. “O cinema é muito elitizado”, afirma. “Para entrar na área, a pessoa precisa entender essa lógica”.
Para manter-se na indústria, diz ele, é preciso que o cineasta saiba ser independente. Consiga realizar o filme do princípio ao fim: roteirizar, filmar, montar. Sozinho, se preciso for.

Trecho de A última Cena, do cineasta indígena Alberto Alvares. Ele preserva a memória de um povo
Manter-se próximo das comunidades ajuda. “No que depender do pessoal das aldeias, a gente grava sem recursos mesmo”, conta Alvares, sorrindo. Hoje, ele diz que é frequentemente chamado para registrar as memórias dos idosos que querem preservar suas experiências para a posteridade. Essa é uma forma de reconhecimento que o comove mais do que qualquer convite para participar de eventos internacionais.
Alvares lembra que, anos atrás, exibiu o filme “O último sonho”, que ele dirigira, em uma aldeia que participara das filmagens. A certa altura, uma das lideranças pediu que eçe pausasse a exibição. Na tela, um ancião narrava memórias da juventude, e descrevia uma dança realizada em momentos de celebração. Alvares ficou apreensivo, achando que fizera algo errado. “Essa dança que ele descreve, nós ainda fazemos, mas de uma outra maneira”, disse a liderança, se dirigindo à plateia. “Nós tínhamos esquecido o modo antigo de dançar. Agora sabemos novamente”. Alvares respirou aliviado.
O cineasta, que filma para não esquecer, se envaidece ao perceber que seus filmes ajudam a manter viva a cultura do seu povo.
Você vai gostar também:

Cis e trans: qual a diferença dos termos?
3 min
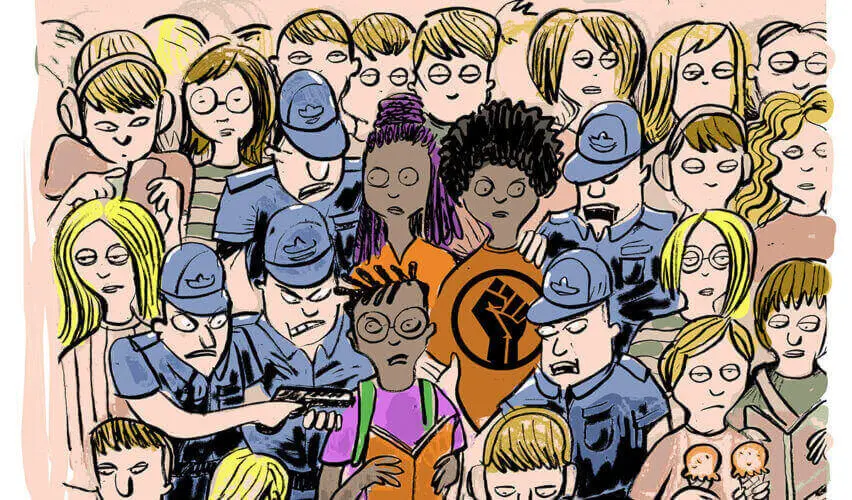
Saiba o que pode e o que não pode em uma abordagem policial
16 min

4 escritoras lésbicas brasileiras que você precisa conhecer
3 min
Entrevista
Ver mais
Com mulheres negras em minoria, sistema de Justiça é antidemocrático, diz promotora
10 min

População negra não aparece nas políticas de saúde, diz ativista
11 min
Glossário
Ver mais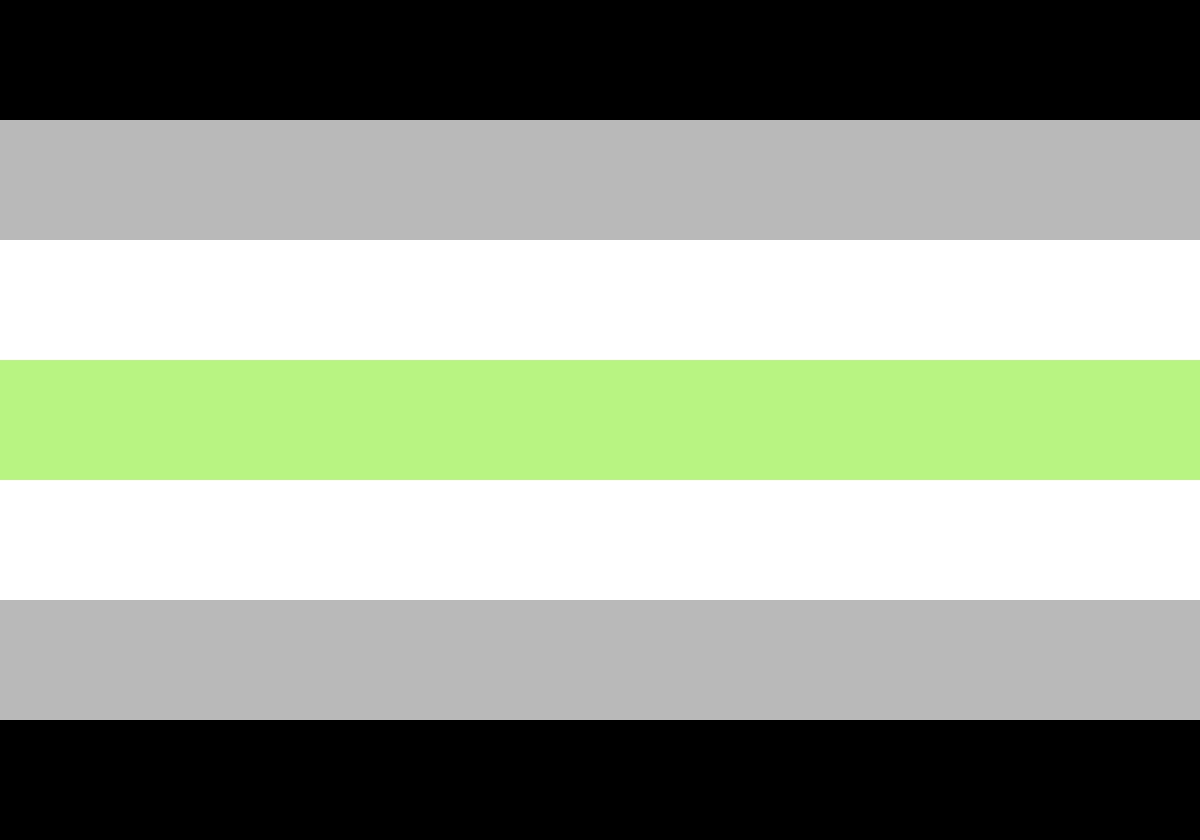
O que é agênero? Entenda a identidade de gênero e sua bandeira
3 min

O que é interseccionalidade?
8 min

